Nota: O Thiago fez esse projeto fotográfico e procurou o Comunicadores para podermos compartilhar a sua história e o seu olhar. As fotos aqui são de sua autoria.
De todos os animais, o homem é aquele a quem mais custa viver em rebanho”
Jean-Jacques Rousseau
Nesse ano, em 26 de abril, resgatam-se fatos de exatos 30 anos da explosão nuclear em Chernobil, a maior catástrofe do gênero na história da humanidade. Para que se conheça toda a sua história, é necessário, antes de tudo, estar preparado para lidar com a própria solidão.
É lapidante a sensação de estar exposto a si mesmo, confrontando muros opositores de memórias antigas, pisando em tampas desnudas de ideias que sugerem outras entradas – isso é estar só. E devo sim, confessar: a minha solidão é propulsora, na vida e na fotografia. Assim como são propulsores dessa minha viagem à Ucrânia os textos da literatura de Nietzsche e Rainer Maria Rilke – os meus preferidos poetas dessa celebração aprisionada. A história de Chernobil revela em frações plurais, incontáveis segredos escancarados. Vários deles estampados em esquinas de um silêncio terrível e que, aos olhos nus, faz tornar-se invisível uma grande ameaça, criatura desenhada pela ganância do homem: a radiação nuclear.
Esse resgate histórico em solo ucraniano representa para mim uma certa libertação. E memória. A minha voluntária busca de experiências fotográficas em solo radioativo é muito semelhante a uma sensação de genuína liberdade. E compreende também a narrativa inconstante da memória. Cá entre nós, não seria exatamente esse o grande propósito da fotografia artística? A preservação da minha memória através das lentes assumiu caráter documental semelhante à oralidade que ergueu até aqui toda a história da humanidade: além da caneta e do papel, a invenção da fotografia atribuiu a si mesma uma nova escala da perpetuação histórica. E cá estou a dividir a minha oralidade transmutada em imagens invernais, esse tema dolorido de ser relembrado – imune à evolução tecnológica frente à natureza – como se viu recentemente nos incidentes com os reatores de Fukushima, no Japão, em 2011.
Chernobil engloba o assentamento da cidade de Pripyat, a 153 quilômetros da capital da Ucrânia, Kiev. Para conhecer os arredores desses locais é necessário obter autorização específica do governo ucraniano (algumas agências de turismo providenciam tudo isso, inclusive transporte e comida durante o trajeto). O fato de viajar pra lá não significa que será possível entrar naquele território. Caso os níveis de radiação sejam considerados hostis (condições climáticas influenciam nesse juízo de valores), é garantido 100% do reembolso do valor pago (US$ 100 ou mais, dependendo da modalidade de turismo escolhida + o aluguel do contador Geiger). Caso tenha sorte de conseguir, a sensação de chegar em Chernobil e passar numa boa pelas guaritas do exército ucraniano (que vigiam e controlam o trânsito de pessoas nesses locais), é semelhante à falta de gravidade: flutuação existencial.
O inverno ucraniano é severo. É janeiro. A temperatura em Kiev beira os -10° negativos, por volta das 7h da matina. Enquanto esperava a van que me levaria a Chernobil, cuidadosamente aproveitei para limpar as minhas lentes com a ajuda da neve abundante descansando no meu equipamento. A paisagem monocromática do inverno praticamente me camuflou no muro onde eu estava encostado. Foi sorte escutar as consecutivas buzinadas de um motorista já impaciente com a demora em me encontrar.

Bora lá: por mais de 4 horas de viagem rumo ao norte do país, mirávamos nossas expectativas em direção ao local radioativo mais silencioso do planeta.
Assim que conseguimos a autorização dos militares e das favoráveis condições climáticas do dia, dei meus primeiros passos num chão benevolente ao sustentar meus passos em colinas baixas de neve. O ar parecia destroçar a pele, a sensação térmica de -15 graus comprometia a minha movimentação; aquele silêncio tardiamente poético definia lentamente os limites entre as minhas ações.

A primeira medida a ser tomada foi ligar o contador Giger-Müller de detecção de radiação, meu grande parceiro em mais de 6 horas de exploração fotográfica. Eu era o único da turma com câmera profissional e tive que assinar um documento específico por fazer questão de deixar minhas mãos expostas, sem luvas. É obrigatório cobrir todas as partes do corpo no inverno, pois a neve retém a radiação do solo e aumenta consideravelmente a intensidade do perigo radioativo. Fui aconselhado a não sair da estrada e evitar pisar/cair em algum jardim, muito menos encostar em árvores, muros e em qualquer objeto a partir daquele ponto.
Sinceramente, eu gostaria de dominar a arte da flutuação naquele instante. Qualquer contato com qualquer coisa era perigoso e eu estava mais exposto que os outros 4 alemães que estavam lá comigo. Pedi autorização para permanecer mais tempo nos lugares e de ter certas liberdades para adentrar algumas moitas e residências dos arredores. Assinei o termo e corri o risco. Um corte na mão e eu estaria contaminado. Foi como andar num mar de canivetes apontados todos para mim. Opa, aí sim!
O primeiro olhar em solo hostil focou calmamente uma escultura de cimento em homenagem aos bombeiros oitentistas de Chernobil. Apesar de ser uma cidade abandonada, existem bombeiros reais, de prontidão ali mesmo: é uma clara homenagem aos companheiros de profissão que morreram tentando evitar que o magma nuclear se dissipasse do reator RBMK, inclusive em direção ao vivo lençol freático localizado poucos metros abaixo do solo. Se tudo aquilo que já tinha sido dissipado no ar pela explosão nuclear entrasse também em contato com a água do lençol, a catástrofe teria sido inenarrável.

Saindo daquele memorial, talvez a experiência mais sensível da viagem tenha acontecido quando vasculhei o terreno de um Kindergarten (escolinha de crianças) a poucos quilômetros do agrupamento de bombeiros. Explorando o jardim da escola, tropecei num galho escondido entre a neve e caí com vontade no chão. Havia uma espécie de guirlanda pendurada em uma cerca quando olhei pra frente, com meu olhar ainda na altura do chão: era na verdade uma cruz nascida entre restos de uma cerca decadente, com diversas lacunas entre as consecutivas tábuas.
A tristeza era a maior textura naquele lugar. Muito mais presente do que a própria neve.


Em um dos quartos, uma boneca jazia lânguida em um colchão maltrapilho, repousando num manto de homenagens cruas sustentadas por silêncios leais em reverência à sua antiga dona. Em diversas alas da escola, fotografei bonecas, sapatinhos, cadernos de música e ursinhos de pelúcia. As paredes, mesas, janelas e portas pareciam comunicar certa revolta por terem sido esquecidas no tempo. A ausência da mão humana rogou a todas as esquinas e espaços daquela escola um amargo sabor de abandono. Quando tentei entrar em uma outra salinha, o chão se rompeu e a minha bota arranhou meu pé esquerdo. A força da madeira fez o piso propositalmente avançar em mim – senti a meia rasgando. Não cheguei a ficar ferido, mas percebi um grande perigo por ser inconsequente.



Fotografar qualquer cena naquelas condições virou um enorme exercício de concentração psicológic,a e acima disso, controlar a linearidade emocional do medo.
Eu não podia, de jeito nenhum, me machucar por lá.
E por isso fiz muitas fotos ruins, perdi muitas cenas pelo simples fato de não ter tempo de realizar ajustes finos na câmera para cada tipo de situação. Eu fazia 1 foto em no máximo 3 segundos e já saía correndo pra outra direção. O contador Giger chegou a mostrar níveis extremamente altos de radiação, disparando um som quase ensurdecedor. Escutei esse alarme em quase toda a viagem.
A adoração pela fotografia predispõe, sempre, o enfrentamento consciente do perigo. Vasculhei artérias entupidas de poeiras e objetos decadentes escandalizados para eternizar em imagens o que testemunhei lá dentro. É como um talho de poesia que nasce de uma parte para significar um todo.
A fotografia vasculha situações da mesma maneira.
A sequência seguinte era ainda mais misteriosa: nos dirigimos até o reator RBMK nº4, justamente onde aconteceu a explosão nuclear. Durante o trajeto, pude observar com certo distanciamento os outros 3 reatores perdidos no horizonte, margeando o Rio Pripyat. A família de reatores estava incompleta. Um quase pronto, órfão apenas da cúpula de sustentação central. Outros ali, na companhia de guindastes cabisbaixos e fios de emparelhamento, pareciam estar congelados no frio pela ausência de qualquer estímulo. Conheci, pela primeira vez na vida, um cemitério abandonado de reatores nucleares ao ar livre.

Fiquei fisicamente distante a 100 metros do reator principal. Meu contador Giger apitava ininterruptamente. Um dos alemães da turma acendeu um cigarro e por muito pouco não provocou um acidente de combustão que me impediria de estar aqui, contando essa história.
Depois do susto e da bronca que escutei no amigo alemão, encarei o protagonismo do reator por cerca de 4 minutos. Enxerguei as emendas de metal sustentando um cansado muro de contenção ao redor da face leste do gigante adormecido. À extrema direita, testemunhei a construção da gigantesca nova cobertura, o conhecido NSC, a ser concluída em 2017. A atual proteção que encapa o reator (construída no final dos anos 80) é defasada e está sucumbindo às ações do tempo. Depois da colocação da nova cobertura, será impossível presenciar o reator como eu vi. Olhos nus verão, dali em diante, apenas um grande telhado branco elíptico, alongado nos cantos, selando o reator por completo a partir de dois trilhos paralelos presos ao chão.
Em questão de minutos, seguimos para a entrada principal da cidade de Pripyat. Fotografei um monumento inaugural onde se lia em cirílico “Pripyat 1970”. Era o único marco físico sobrevivente à reconquista da natureza naquele espaço densamente urbanizado três décadas atrás. A voracidade das árvores sobreviventes entupiu o horizonte de galhos invernais encolhidos pelo frio. No mesmo lugar, durante o verão, a “Floresta Vermelha” floresce, cobrindo a vegetação de vermelho. Os efeitos da radiação exterminaram o verde da clorofila – foi assim que a natureza cordialmente respondeu à ações da contaminação nuclear.

Pripyat foi uma cidade elegante, desfilando mais de 45.000 habitantes. Muito antes de viajar para a Ucrânia, pesquisei sobre o lugar e gravei na memória as fotografias da cidade em seu apogeu, no início dos anos 80: avenidas imperiais com gigantescos canteiros paralelos e árvores arquitetonicamente plantadas em fileiras sequenciais; prédios colossais celebrando o esplendor da arquitetura russa, a conquista e a demonstração de um poder político-científico incandescente forjado em plena Guerra Fria.
Aquela cidade era um paraíso urbano do interior, recortando a densa floresta cerrada do norte ucraniano. Caminhando pela esquecida Avenida Lênin (ainda assim lembra muito a Avenida Karl Marx Allee, em Berlim), presenciei um disciplinado exército de árvores altas enfileiradas com precisão. Um denso vento através dos galhos, seco e irritado, contornava sua trajetória num vasto traçado linear a se perder no horizonte. Mais à frente, apreciei a arquitetura estafada e envelhecida do Centro Comunitário “Energetik”, ligado ao mais famoso hotel da cidade, “Polissia”, através de uma enorme ponte suspensa acima da neve, refletindo um sol embrionário através da sedução de árvores franzinas de inverno.




Não havia horizonte livre. O abandono da cidade permitiu que a natureza se acomodasse como bem quisesse. Os traçados arquitetônicos eficientes das ruas, das praças e dos parques sumiram dali. Pripyat foi uma cidade leal por 16 anos aos homens que viveram sob seu solo, trabalhando dia após dia, na construção sistemática de um complexo urbano criado ao redor de 4 usinas nucleares incansavelmente idealizadas por investimentos russos.
Nesse recorte, consegui explorar lugares tenebrosos como o antigo parque de diversões, nunca inaugurado. A roda-gigante, desfalcada em inúmeras hastes de sua elipse sem fim, parecia chorar a falta de suas cabines. Os carrinhos de bate-bate, largados sem ordem num piso oxidado e esburacado, foram encurralados aos poucos pela neve; a luz do sol que inutilmente tentou adentrar ali, esqueceu de seguir em frente pelo obstáculo das telhas de metal que bravamente suportavam o peso enorme da neve reforçando o inverno.



Inúmeras pequenas casas de depósito pareciam narrar um conto de terror, tamanha a sensação de desolação naquelas ruas vastas de lacunas atemporais. Os desenhos que a natureza recriou ali, reclamando por direito um território invadido pelo homem sem permissão, é o caminho mais justo que sobrou para que a grama decidisse crescer livremente. A vida animal, mesmo no inverno, é fascinante. Cavalos selvagens e diversos lobos assistiram meus passos quebrando a frágil horizontalidade geométrica dos flocos de neve. Mas nenhum deles pensou em me atacar… Deveriam estar, na verdade, felizes em contemplar algo raro por lá: a presença cênica e cínica dos passos de um homem qualquer.
Após algumas andanças sem roteiro, visitei um teatro, presenciei cadeiras rasgadas e desgastadas pelo desuso, constatei a insistência de pôsteres milagrosamente ainda colados às paredes. Encontrei brinquedos mancos e esquecidos em calçadas cicatrizadas. Vi roupas penduradas num mancebo logo ali, num corredor abatido, esquecidas por quem as pendurou décadas atrás. Avistei por fora um restaurante garboso, de pedra bruta polida em elegância, exclusivo para as autoridades e cientistas soviéticos da época. Compreendi a força dos troncos de árvores que, perfilados como soldados, protegiam esses lugares das minhas mãos curiosas.


Não existe interferência naquela arquitetura quietamente exuberante. A natureza comanda os limites tangíveis à nossa vontade de explorar paredes intangíveis à vida contemporânea.
O penúltimo lugar que decidi vasculhar foi um supermercado. As gôndolas dos produtos estavam lá. Os corredores. As estantes de comida, alguns sofás e caixas e mais caixas.
O que sobreviveu aos inúmeros roubos feitos não só ali, mas na cidade toda, ainda demarcam características próprias de ambientes comerciais e residenciais. É fácil reconhecer as intimidades de quem morou ou passeou por ali. O chão resgata indícios de alguma atividade do passado. A sensação de solidão é absurdamente tocante quando se respira um ar inquieto, projetado pra ser também inspirado e não apenas expirado. O pulmão natural da cidade oprime a presença humana. Seus movimentos inconstantes são uma espécie de respostas insatisfeitas à agressão nuclear que cometemos naquelas terras.




Algumas centenas de metros dali, distante da minha própria consciência geográfica, resolvi entrar em um prédio residencial. Cheguei na portaria e vi, escancarada, a intimidade do abandono. Conversei com uma máquina registradora de dinheiro, escutei os resmungos de gavetas sem fundo, invadi quartos sem pedir licença para entrar. Conheci a intimidade de que não estava mais ali. Atravessei corredores e túneis de silêncio que me fizeram gritar. Busquei alguma superfície quente. Só encontrei partituras velhas de uma frieza cadavérica lá dentro.
Acorrentei minhas angústias infantis e resolvi caminhar como um homem.
Registrei o que pude, desistindo de reclamar da dor nas pernas, dos dedos roxos das mãos congeladas. Eu não sentia mais a câmera na minha mão. Perdi o tato. Fiz as fotos por pura insistência, pois havia entendido o recado: meu corpo não aguentava mais resistir a tudo aquilo. Meu casaco cansou de trabalhar, minha calça inundou-se ao mergulhar na neve. Até meu cinto esqueceu de segurar o que cobria minhas pernas. Tudo visível é perecível.
O frio debatia com meu contador Giger sobre avisos do perigoso inimigo invisível. Levei alguns tombos, inúmeros na verdade. Toquei em objetos, abri portas, fechei meu olhar para o perigo e escalei paredes desafiadoras. Abandonei a técnica fotográfica, o foco, a luz e a sombra.



Mas fiz todas as fotos desse ensaio com a alma, por instinto e insistência, quase teimosia. Segui caminhos diferentes do que foi programado, corri riscos e celebrei a cada barulho de um passar das pernas a constatação que havia feito um grande trabalho de expressão pessoal: a eternização do massacre de um lugar distante do meu país – embora com a mesma identidade existencial. Todos, no final das contas, querem conquistar territórios. Ampliar seus domínios.
E disso advém as nossas fábricas de ruínas. O homem procriou e abandonou suas próprias decadências, arquitetônicas e empíricas. Somos todos consequência de um momento de vigor. A arquitetura, grande tema que busco explorar quando fotografo, deixou de ocupar espaço primordial na minha jornada em Chernobil. A minha “fotografia de improviso” é muito mais difícil de exercer na prática do que se imagina na teoria. Embora tenha feito muitas fotos em questão de segundos, não foram as minhas mãos o grande instrumento das memórias que registrei.
O meu texto é o melhor registro de tudo isso. O ato de dividir antes do verbo clicar. São os caminhos que percorri até chegar em cada um daqueles frames solitários. Muito mais transcendental que a experiência subjetiva de testemunhar a ausência de cordas vocais em Pripyat, foi o fato de relembrar que, em 26 de abril de 1986, o mundo descobriu o devastador poder da cortina nuclear que se espalhou pelo vento e de carona com a chuva, escondendo-se então nas árvores, no chão, nos pulmões de pessoas sentadas na plateia de suas escolhas, nos gramados das casas e em todas as outras estruturas.
Poucos homens em Chernobil conseguiram salvar a humanidade de um massacre.
A todos aqueles que morreram na boca do reator nuclear, em menos de 30 segundos após respirarem um ar com gosto metálico: sintam-se homenageados pelo meu verbo. A sensação de “garganta seca” que muitas pessoas descreveram em depoimentos posteriores, umideceram minhas fotos de compaixão. O fato de ser brasileiro não me isentou de um estranho fluir de emoções, do pisar inóspito em coreografias geográficas onde a presença humana não é tão natural. Ali quase tudo é proibido ao homem.
Tudo que era de grande valor foi roubado de Chernobil. Todos os bens, objetos caros e louças eslavas foram saqueados por bandidos ocasionais em indefesos apartamentos, reféns de quarteirões e praças expostas ao sol e à chuva. Embora tudo ali esteja em constante degradação, não se pode evitar que propositalmente desmoronem todas as lembranças da tragédia. A fotografia documental que experimentei produzir na Ucrânia eternizou a minha leitura fotográfica nessas cidades.
Mas nada rouba-lhes a dignidade de voltar a serem autênticos seres-objetos selvagens em comunhão atávica com a natureza. Segundo previsões otimistas, em 20.000 anos talvez, Chernobil pode se tornar habitável novamente. Enquanto isso, animais e flores acompanhadas de galhos valentes e rios catapultando peixes vitoriosos, ecoam por ali a superação vertical da vida em relação ao ego humano feito de urânio e combustível nuclear.
Nada se contrapõe ao caminho natural da vida:
Tudo que é sólido se desmancha no ar.*
*título do livro mais conhecido do autor americano Marshall Berman, ao analisar o contraponto entre a modernização econômica e social em conflito com a modernização contemporânea, inspirado no Manifesto Comunista, de Karl Marx.
Acesse www.thevoidfraction.com para conhecer outros desdobramentos desse trabalho.
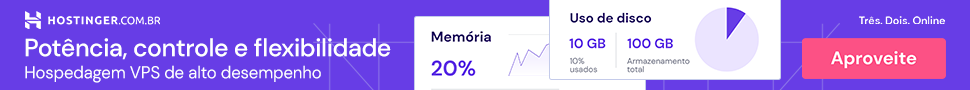




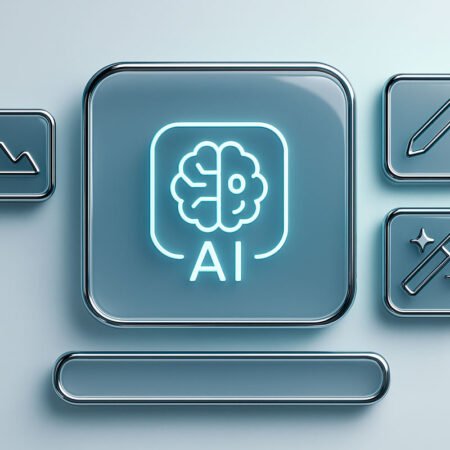


Ainda ninguém comentou. Seja o primeiro!